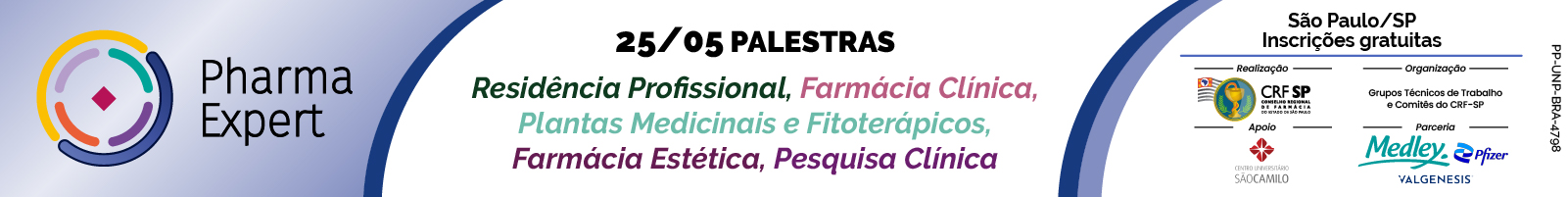CLIPPING - 03/08/2015
Assessoria de Comunicação do CRF-SP
Vacina da meningite deixa pais confusos e R$ 1.200 mais pobres
03/08/2015 - Folha de S.Paulo
Uma vacina nova –e bastante cara– está deixando os pais brasileiros que levam os filhos a clínicas particulares confusos.
Ela protege contra a meningite B, está disponível desde abril e cada uma das suas duas doses custam até R$ 600.
Os pediatras dizem que a vacina não é absolutamente necessária, até porque não há nenhum surto da doença no país. Mas e a culpa dos pais se alguma coisa vier a ocorrer?
Até porque, de fato, trata-se de uma doença séria. De acordo com a pediatra Natasha Slhessarenko, entre 20% e 30% dos pacientes que têm infecção bacteriana morrem, e é elevado o número de sobreviventes com sequelas como surdez ou dificuldades motoras.
Por outro lado, além da situação controlada da doença no Brasil, o sorogrupo B não é o mais importante. Cerca de 70% dos casos de meningite se devem ao sorogrupo C, que tem vacina disponível no SUS.
Segundo dados do Ministério da Saúde, das 2.740 pessoas tiveram meningite bacteriana no Brasil no ano passado, 146 (5,3%) foram vítimas da meningite B –ao fim, foram 23 mortes no ano. Existe ainda uma forma viral da doença, mas ela é mais branda.
Como desde 2010 a rede pública vacina as crianças de menos de dois anos contra a meningite C, porém, a incidência do sorogrupo B passou a ser o principal vilão no caso específico dessa faixa etária.
"A vacina é boa e recomendada. Mas não existe um cenário que justifique correria para as clínicas", diz José Paulo Ferreira, médico da Sociedade Brasileira de Pediatria.
A demanda dos pais, porém, tem causado falta do produto em algumas clínicas –a farmacêutica GSK informa que está trabalhando para regularizar os estoques.
Não há previsão da entrada da nova vacina no Calendário Nacional de Vacinação.
"Quando as sociedades médicas recomendam dar a vacina, eles pensam na saúde individual, em tudo que possa ser feito para evitar a doença. O SUS tem que pensar na saúde pública, medir impacto, por exemplo", diz a pediatra Flávia Bravo, da Sociedade Brasileira de Imunizações.
Não foram identificadas reações à vacina. Segundo a GSK, ela funciona contra 80% das bactérias vinculadas à meningite B que ocorrem no Brasil.
Esses números ficarão mais claros conforme surgirem resultados dos testes clínicos –é possível testar uma vacina de duas formas: pela eficácia imunogênica, que testa o nível de produção de anticorpo, e com testes clínicos, que verificam a queda da incidência da doença na população.
"São testes que levam tempo, porque a população tem que ser vacinada", diz o infectologista Artur Timerman.
Novo presidente da Anvisa quer registro de medicamentos mais ágil
02/08/2015 - Valor Econômico / Site
À frente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) há duas semanas, o médico sanitarista pernambucano Jarbas Barbosa assumiu a presidência da agência defendendo uma vigilância sanitária com foco nas probabilidades de risco, que proteja o cidadão, mas que não tenha caráter proibitivo ou invasivo na vida dos cidadãos.
Em entrevista à “Agência Brasil” durante o 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Barbosa destacou como desafios para seus três anos de mandato a aproximação da agência com a população e a redução das burocracias desnecessárias do setor. O presidente da agência também anunciou que a Anvisa poderá aprovar novas regras para agilizar o registro de medicamentos no Brasil.
Na avaliação do diretor-presidente, a Anvisa se desenvolveu muito em 15 anos de existência, mas precisa começar a usar as redes sociais para chegar às pessoas, por exemplo, para que informar sobre quais remédios estão com a venda proibida ou quais alimentos estão sendo recolhidos.
A Anvisa é responsável por regular direta ou indiretamente produtos que somam 30% do Produto Interno Bruto (PIB), como alimentos e medicamentos. Segundo o novo presidente, a agência vem se destacando mundialmente. Recentemente, o Chile passou registrar automaticamente genéricos com registro brasileiro. Paraguai e Colômbia estudam fazer o mesmo.
“[O tempo para registro de medicamentos] é razoável, mas a gente pode melhorar algumas coisas”, avaliou Barbosa, sobre o tempo que a agência leva hoje para decidir se um remédio pode ou não ser comercializado no país. Segundo ele, em agosto, a diretoria colegiada da agência pode aprovar uma norma que vai reduzir a fila de quatro mil para mil pedidos de registro.
Ele explica que nesta fila, além de novos medicamentos, há também pedidos de mudanças de embalagem ou de número de comprimidos. A nova norma deverá agilizar os procedimentos mais simples para desafogar o sistema.
Segundo Barbosa, para tornar o processo mais célere também é necessário olhar modelos de agências de outros países. “Um exemplo é que o Brasil é um dos poucos países em que suplementos alimentares são tratados como medicamentos. Na maioria dos países é tratado como alimento”, disse. A classificação, na avaliação do presidente da agência, sobrecarrega a área de medicamentos desnecessariamente.
Coordenar as ações das esferas municipal, estadual e da União é outra necessidade da Anvisa, vista por Jarbas Barbosa como fundamental para dar fortalecer o setor. Para ilustrar a situação, o novo presidente da agência conta que a União Europeia reconheceu a qualidade de padronização para produtores brasileiros de matéria-prima de medicamentos, porém, para a venda dos produtos para fabricantes europeus, exige que as inspeções sejam feitas pela União.
“A gente só tem 35 produtores de IFA (Insumos Farmacêutico Ativo) no Brasil, dá para a Anvisa fazer [as inspeções]. Mas queremos estender esse reconhecimento para produtor de medicamento, que são 350, temos que acertar com os estados uma divisão bem clara”, explicou.
Um dos temas mais importantes da pauta da Anvisa é a decisão sobre a liberação da primeira vacina contra a dengue. O produto está sendo concluído e a agência terá que decidir se a vacina poderá ou não ser comercializada no Brasil. O laboratório Sanofi Pasteur, responsável pelo produto, anunciou que a decisão deve sair até o fim deste ano, mas Barbosa não confirma o prazo.
“Hoje em dia a gente tem troca de dossiês com outras agências, e isso auxilia na análise. No caso da dengue a gente está começando do zero”, afirmou. Barbosa conta que a questão da vacina da dengue é tão complexa que a Organização Mundial da Saúde (OMS) está organizando uma reunião entre agências reguladoras para estabelecer um parâmetro para o registro do produto.
Respeito e eficiência na rastreabilidade de medicamento
03/08/2015 - Folha de S.Paulo
Colunista: SÉRGIO MENA BARRETO
O Brasil vem se preparando para adotar uma solução que pretende trazer mais segurança aos medicamentos consumidos no país, mas está correndo sério risco de implementá-la erroneamente e prejudicar de forma inequívoca aqueles a quem se busca proteger, justamente os usuários de medicamentos.
Aprovada em 2009, a lei nº 11.903 prevê que cada medicamento produzido e comercializado no Brasil seja rastreável, ou seja, que contenha uma forma de ser identificado individualmente e acompanhado desde sua produção até o consumidor final, inclusive com informações sobre o médico que o prescreveu.
Ocorre que, na pressa de lançar a novidade, estamos cometendo dois graves erros. O primeiro deles é o tempo de implantação. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos estabeleceu-se um prazo de dez anos, no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) impôs um limite de apenas três.
Não precisamos de muita reflexão para entender que a condução deste trabalho requer o tempo necessário para a implementação do sistema de forma segura e eficiente. Para que se tenha uma noção do tamanho do problema, mais de 3 mil linhas de produção terão de ser modificadas em tempo recorde, inclusive as dos laboratórios públicos, cuja escassez de recursos é conhecida. Em vez de lotes, cerca de 4 bilhões de unidades de medicamentos passarão a ser controladas individualmente, dia após dia.
Além das linhas de produção, todos os sistemas de abastecimento, compra e venda de medicamentos terão de ser modificados. São mais de 180 mil estabelecimentos –entre farmácias, hospitais públicos e postos de saúde– que terão de adquirir novas tecnologias de captura, armazenamento e transmissão de dados, pois a lei determina que a rastreabilidade se estenda até o ponto de dispensação, seja público ou privado.
Realizar uma mudança dessa envergadura às pressas, tratando-a de forma leviana, é claramente uma temeridade. Deve-se, portanto, levar em conta a complexidade da operação logística que a medida irá demandar, pois o risco de faltar medicamentos nas prateleiras é iminente.
Mas há um erro ainda mais grave na implantação da rastreabilidade de medicamentos: a forma como o Brasil pretende fazê-la. Os que se atentaram aos detalhes observaram que a lei apenas determinou o monitoramento, sem fazer qualquer menção à forma como isso seria realizado.
Eis que, após quatro anos, em 2013, a Anvisa regulamentou a medida, mas delegou aos fabricantes a responsabilidade de concentrar as informações relativas aos medicamentos. Sendo assim, atacado e varejo são obrigados a devolver as informações de toda e qualquer movimentação dos medicamentos às indústrias, que montarão um banco de dados com todos os dados do mercado. Isto é um verdadeiro absurdo, um atentado à privacidade da informação prevista na Constituição.
A recomendação para a criação do sistema de rastreabilidade veio da CPI de Medicamentos, de 1999, que investigou o suposto cartel das indústrias farmacêuticas, e o alijamento da concorrência por meio do uso da informação e da manipulação do mercado.
Dar aos fabricantes, de modo oficial, as informações dos médicos, pacientes, do atacado e do próprio varejo é um claro atentado à livre concorrência, e vai totalmente contra o que a CPI dos Medicamentos quis evitar ao recomendar a criação da lei.
Ora, é simples entender o motivo: pelo fato de exercerem influência sobre a prescrição médica e terem o poder comercial, ao identificarem onde e quando foi vendido cada medicamento, os fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços, dominar a concorrência.
Na prática, a lei que visa a proteger o usuário vai prejudicá-lo de vez, principalmente nos dias de hoje, em que o mundo discute a proteção à individualidade dos cidadãos, das empresas e dos governos. Ao tomar essa decisão, o país trilha por um caminho obscuro de desrespeito à sociedade.
Na Argentina e Turquia, que já implantaram o sistema, e nos Estados Unidos e na União Europeia, que vão implantá-lo nos próximos dez anos, quem gerencia a informação? O governo, é claro, e não os fabricantes.
Um projeto de lei no Senado pretende dar um freio de arrumação neste estado de coisas, propondo mais prazo e uma alternativa para garantir que as informações fiquem protegidas. Ante a complexidade do tema, a própria Anvisa também está reestudando o assunto internamente. A sociedade tem de ser envolvida neste debate. A hora da discussão é agora. Deixar para depois poderá ser tarde demais.
Pílulas da ressaca sexual
02/08/2015 - O Globo
As pernas tremem continuamente. Lucas (nome fictício) parece não encontrar posição confortável na cadeira. O olhos pulam de um ponto para o outro da sala e se enchem de lágrimas quando ele explica o seu drama:
— Eu fui um idiota. Estava bêbado, nem sei como fui parar naquele lugar. Acabei transando com duas prostitutas sem camisinha — conta o cineasta, de 28 anos, na sala de espera do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, referência no tratamento contra a Aids na América Latina.
A experiência lhe custou um namoro de três anos e uma noite insone pelo temor de ter contraído o vírus HIV. Para o segundo problema, no entanto, Lucas encontrou alívio em três comprimidos que têm sido chamados de “pílulas do dia seguinte da Aids”, ou “pílulas dos 28 dias seguintes”. A medicação previne a contaminação por HIV em 99% dos casos desde que seja tomada até 72 horas depois da situação de risco e ao longo das quatro semanas seguintes.
O nome médico para o tratamento é PEP, sigla para Profilaxia Pós-Exposição. Já existe no Brasil há anos, mas, por muito tempo, ficou restrito a profissionais da saúde que sofreram acidente de trabalho ou a vítimas de violência sexual. Desde 2012, timidamente, passou também a ser ministrada a pessoas que passaram por qualquer situação de risco. Há 10 dias, o Ministério da Saúde anunciou a decisão de facilitar ainda mais o acesso. De acordo com o novo protocolo, publicado no dia 23 de julho, médicos de qualquer especialidade podem prescrever o remédio, fornecido de graça pelo SUS. A mudança acontece depois de a Organização das Nações Unidas (ONU) publicar, este mês, um relatório mostrando que, de 2005 a 2013, o número de novas infecções no mundo diminuiu 27,6%, enquanto, no Brasil, aumentou 11%.
De 2010 a 2014, a quantidade de doses de PEP distribuídas pelo governo saltou de 12 mil para 22 mil. A perspectiva é que esse montante seja bem maior este ano. O ministério espera que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) derrube a regra segundo a qual apenas médicos podem receitar as pílulas, autorizando qualquer funcionário de saúde a prescrevê-las.
Até o fim do ano, as pílulas devem estar em cerca de 800 hospitais, prontosocorros e centros especializados do país. Aumentará especialmente o número de estabelecimentos 24 horas que oferecem o tratamento — uma medida fundamental, já que, segundo pesquisas do Hospital Emílio Ribas, que até recentemente era responsável por 10% dos atendimentos com PEP no Brasil, mais da metade dos pacientes procura a pílula no fim de semana ou na segunda-feira.
— As histórias dos pacientes estão muito ligadas a bebida e balada — diz Francisco Oliveira, infectologista do Emílio Ribas.
De acordo com Oliveira, como a PEP é uma alternativa ainda pouco conhecida pela população em geral, o perfil do paciente que procura o serviço é de um nível educacional e econômico mais alto do que a média dos frequentadores do sistema público de saúde. Cerca de metade tem ensino superior completo e acesso fácil à internet. Sete em cada dez são homens e, nesse grupo, a maioria é homossexual. Cerca de 20% são mulheres que tiveram relações heterossexuais. E há, ainda, de acordo com os médicos, casais que frequentam casas de suingue.
— Não é raro as pessoas aparecerem aqui vindo direto da festa, às vezes alcoolizadas, admitindo que deixaram de usar o preservativo — afirma Ralcyon Teixeira, infectologista responsável pelo pronto-socorro do Emílio Ribas.
‘NÃO SEI POR QUE NÃO USEI’, DIZ PROFESSORA
Deixar de usar o preservativo em relações sexuais não é algo incomum entre os brasileiros. A Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na População Brasileira (PCAP), divulgada pelo governo em fevereiro, dá conta de que 45% dos entrevistados afirmam não ter recorrido à camisinha em relações recentes, mesmo sabendo que essa é a melhor forma de impedir o contágio por doenças sexualmente transmissíveis. Entre os jovens de até 30 anos, de acordo com os especialistas, esse comportamento de risco é ainda mais frequente.
— A camisinha estava ali, na minha bolsa, ao alcance da mão. Não posso nem dizer que eu esqueci, na hora eu até pensei, mas não sei porque não usei — diz Jaqueline, professora de espanhol de 24 anos, que relatava ter saído, na noite anterior, com um homem que conhecera por meio de um aplicativo de celular.
Solteira há cerca de um ano, ela conta que procura apenas sexo casual pela internet. Não costuma rever os parceiros que, segundo ela, somam aproximadamente 20 nesse período. A professora admite que, com ao menos quatro deles, fez sexo sem camisinha. Não tinha ficado preocupada até que, na última experiência, foi surpreendida:
— Ele me disse que não transava sem camisinha há muito tempo porque a ex-namorada era soropositiva. Recomendou que eu fosse fazer um teste. Fiquei sem reação. Até agora não sei o que pensar, não sei se ele é daquelas pessoas doentes que querem espalhar o vírus ou se só quis me pregar uma peça, mas não quero pagar pra ver — pondera Jaqueline.
Ela se diz consciente dos riscos que corre e disposta a enfrentar os efeitos colaterais do tratamento, que podem ser severos. Entre eles estão náuseas, vômito, dores de cabeça e de estômago, alergias e, em casos graves, hepatite.
Apesar disso, há casos de pessoas que, em dois anos, já recorreram ao serviço quatro vezes. No meio médico há uma grande discussão sobre se a adoção da PEP em larga escala poderá promover o abandono definitivo da camisinha. Estudos científicos não acusaram esse efeito, mas ninguém sabe dizer o que vai acontecer daqui por diante:
— Não sabemos dizer onde vai dar. As pessoas sabem que a camisinha é o melhor jeito de prevenir. Mas quem gosta de usar? Com a Aids, as pessoas, sobretudo os jovens, têm uma fantasia de que a equação está resolvida, de que não há mais problemas. Nosso discurso talvez tenha sido simplista. Quando se diz que a infecção é uma doença crônica e que a expectativa de vida, hoje, é longa, a ideia não é afirmar que se contaminar não é um problema — critica o infectologista Jamal Suleiman, que trata de pacientes com HIV desde 1985.
Hoje, mesmo uma pessoa infectada pelo vírus HIV pode levar uma vida relativamente normal tomando medicamentos antirretrovirais para sempre. Principalmente se o tratamento começar no estágio inicial da doença.
Jamal Suleiman, no entanto, rechaça a ideia de que deve ser retomado um discurso do pânico, comum no início da epidemia mundial. Segundo ele, o problema é que as escolas estão abandonando o assunto, e as comunidades gays deixaram de se reunir em pontos de encontro graças à facilidade proporcionada por aplicativos de namoro, o que dificulta ações educativas voltadas para esse grupo de risco.
O discurso do administrador de empresas Rodolfo, de 23 anos, exemplifica a mudança de perspectiva em relação à doença. Logo após tomar sua primeira dose da PEP, para evitar a infecção após uma noite de sexo inseguro com uma prostituta, ele afirmou: — Para mim, Aids não é grave. É algo que pode morar contigo a vida inteira, mas que não vai te matar, como um câncer. Estou aqui só porque é melhor não ter, né?! O erro é humano, mas com essa pílula não precisa esquentar a cabeça. Essa lógica, além de perigosa para a saúde, tem um custo alto para a sociedade. Cada tratamento de PEP custa cerca de R$ 1 mil, bem mais do que um preservativo masculino de látex. O Ministério da Saúde afirma que, ao expandir o acesso, a ideia não é passar a mensagem de que a camisinha pode ser descartada. Justamente pela preocupação de que as pessoas adotassem as pílulas como única forma de prevenção, a discussão no governo levou mais de um ano:
— Alguns colegas têm resistência para prescrever o medicamento. O argumento é de que o sujeito se arriscou e, por isso, deveria arcar com as consequências. Mas a PEP deve ser combinada com outros métodos — afirma o diretor do departamento de DST-AIDS e hepatites virais do ministério, Fábio Mesquita. — A intenção é facilitar o acesso ao tratamento porque, para a pessoa e para o país, é muito melhor que alguém tome um remédio por 28 dias do que para o resto da vida.
Vacina contra o ebola tem 100% de eficácia na Guiné
01/08/2015 - Folha de S.Paulo
Uma vacina contra o ebola se mostrou 100% bem-sucedida em testes conduzidos durante a epidemia na Guiné. É provável que ela leve a epidemia no oeste africano a um fim, dizem especialistas.
Os resultados dos testes, feitos em mais de 4.000 pessoas, são notórios por causa da velocidade sem precedentes com que o desenvolvimento da vacina foi conduzido.
Normalmente, o processo leva mais de uma década. Desta vez, foi apenas um ano.
"Tendo visto os efeitos devastadores do ebola em comunidades e até mesmo em países inteiros, eu estou muito encorajado pela notícia que damos hoje", disse Børge Brende, ministro do exterior da Noruega, que ajudou a financiar as pesquisas. "Essa nova vacina, se os resultados se confirmarem, pode ser a bala de prata contra o ebola, ajudando a trazer a epidemia atual para zero."
TESTES
Por conta da redução do número de casos de ebola no oeste africano e a natureza transitória da epidemia, com muitos pequenos surtos, os pesquisadores resolveram testar um novo tipo de desenho experimental.
O usual seria pegar a população em risco de contrair a doença, vacinar metade e dar placebo (injeção sem princípio ativo) para a outra metade. No entanto, os pesquisadores usaram um design em "anel", similar ao que ajudou a provar que vacina contra a varíola funciona, na década de 1970.
Quando o ebola surgia em um povoado, pesquisadores vacinavam todos as pessoas próximas da pessoa doente, como parentes, amigos e vizinhos –se assim quisessem.
Crianças, adolescentes e mulheres grávidas foram excluídos por conta da falta de dados de segurança.
Para testar quão bem a vacina protegeu as pessoas, os grupos recebiam a dose aleatoriamente, imediatamente após a confirmação do caso de ebola ou após três semanas.
Entre as 2.014 pessoas vacinadas imediatamente, não houve casos de ebola por dez dias após a vacinação –permitindo que a imunidade se desenvolvesse.
O estudo foi financiado majoritariamente pela Organização Mundial da Saúde e reuniu cientistas de diversos países. Os resultados foram publicados nesta sexta pela renomada revista científica "The Lancet". A vacina pertence à farmacêutica Merck.
Os dados dos testes agora vão para agências regulatórias nacionais. Ainda não se sabe o custo exato por dose. É provável que a injeção seja aplicada apenas em pessoas em situação de risco, não na população toda.
Os ensaios vão continuar, mas sem randomização, o que significa que na Guiné, onde houve 3.781 casos e 2.521 mortes, todas as pessoas que têm contato com alguém infectado (e os contatos delas) poderão receber a vacina, se quiserem. Um trabalho feito no Gabão estabeleceu que a vacina é segura para crianças e adolescentes e a ela também será oferecida para esse público.
A vacina, chamada "rVSV-ZEBOV", foi originalmente desenvolvida pela Agência de Saúde Pública do Canadá, antes de ser vendida para a Merck, antes dos testes.
Novas drogas contra Aids tiram o HIV de esconderijos no corpo
01/08/2015 - O Globo
Cientistas trouxeram novas esperanças de cura da Aids. Dois estudos publicados na revista científica “PLoS Pathogens” mostraram resultados encorajadores com uma combinação de substâncias que induzem o vírus HIV a sair de seus “esconderijos” no corpo humano, para que, então, seja eliminado do organismo.
Pilar do tratamento da Aids, a terapia antirretroviral mata o vírus na corrente sanguínea, mas não consegue atingir seus reservatórios, indetectáveis pelo sistema imunológico.
A força desses reservatórios ficou clara no caso de um bebê do estado do Mississipi, nos EUA, que recebeu medicamentos antirretrovirais no nascimento e chegou a ficar livre do vírus mesmo após a interrupção do tratamento. Mas ele voltou a se manifestar após dois anos.
Portanto, para erradicar o vírus do corpo e realmente curar o indivíduo, os reservatórios precisam ser ativados e eliminados, a partir de uma estratégia chamada “chutar e matar”, aplicada nas duas novas pesquisas.
Um dos estudos, liderado pela equipe da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, investiga os efeitos do PEP005, substância encontrada num medicamento para câncer de pele, já aprovado pela agência de reguladora dos Estados Unidos, a FDA. A droga, portanto, é comercializada no país e mostrou ter baixa toxicidade, provocando poucos efeitos colaterais.
— Os reservatórios virais em indivíduos infectados pelo HIV são rapidamente reativados após a interrupção da terapia antirretroviral. Portanto, novas estratégias são necessárias para erradicar esse vírus latente — explica um dos principais autores do estudo, Satya Dandekar, da universidade californiana. — Descobrimos que o PEP005, que faz parte de uma nova classe de drogas anticâncer, conseguiu reativar o vírus que estava em latência.
LONGO CAMINHO À FRENTE
Além disso, a combinação de PEP005 e da substância JQ1 reativaram o HIV num nível 7,5 vezes maior se comparada ao PEP005 sozinho. Os cientistas testaram o composto em células cultivadas em laboratório e em amostras do sistema imunológico de 13 pessoas com HIV. A droga, entretanto, ainda não foi testada diretamente em indivíduos infectados.
Reconhecida por suas pesquisas em HIV, a professora Sharon Lewin, da Universidade de Melbourne, considerou os resultados “interessantes” e disse que marcam um “avanço importante na busca por novos componentes capazes de ativar o HIV oculto”. Entretanto, em entrevista à rede britânica “BBC”, ela destacou que muito trabalho ainda precisará ser feito.
— Embora o PEP005 faça parte de um medicamento aprovado pela FDA, vai levar algum tempo para comprovarmos se ele é seguro para uso no âmbito do HIV — afirmou.
No segundo estudo, os pesquisadores da Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, mostraram esse resultado de reativação do HIV latente por uma combinação de tratamentos com os chamados agonistas de PKC (prostatina, bryostatina-1 e ing-B) e compostos que liberam a substância P-TEFb (JQ1, I-BET, I-BET151 e HMBA). Eles também foram testados em células cultivadas em laboratório e em amostras do sistema imunológico de indivíduos com HIV. O efeito foi notado 24 horas após a aplicação das drogas. — Nossos resultados trazem provas de que esta combinação de substâncias pode ser uma estratégia proposta para a cura ou a remissão duradoura da infecção do HIV — comentou a autora principal do estudo, Carine Van Lint.
Luz antes do túnel
01/08/2015 - Carta Capital
O encontro da Associação Americana para o combate da doença de Alzheimer (DA) ocorrido em Washington na semana passada trouxe mais esperança para a cura do mal mais grave deste século.
Duas proteínas anormais que se acumulam no cérebro são consideradas as vilãs dos pacientes com a doença. Moléculas de proteína beta-amiloide se acumulam de maneira exagerada e grudam umas nas outras, formando placas entre os neurônios, afastando-os e destruindo suas conexões. Enquanto isso, proteínas TAU também se acumulam e se unem, formando filamentos dentro dos neurônios que causam alterações nas células e a morte precoce dos neurônios.
Até hoje, as medicações que oferecemos aos pacientes com DA, melhoram apenas os sintomas e de maneira ainda insatisfatória. No encontro de Washington, foram apresentadas algumas medicações que combatem de maneira eficiente o acúmulo dessas proteínas no sistema nervoso. A idéia não é nova. mas o que se mudou foi a utilização dessas medicações nos estágios iniciais da doença ou até mesmo antes de as pessoas apresentarem sintomas. Nessas fases já existe o acúmulo das proteínas, mas as células ainda estão vivas e, portanto, podem ser salvas.
A droga mais eficaz desse grupo parece ser o Solanezumab. Essa medicação é um anticorpo fabricado para gruckrr no aglomerado da proteína beta-amiloide. Seu poder como anticorpo ide identifi^ car a placa como um corpp estranho e estimular os leucóeitos, nossas células de defesa, a "engolirem" as placas e retirá-las do sistema nervoso.
A droga foi testada em 1.322 seres humanos por 3,5 anos e reduziu a velocidade daperdade memória nospacientes com Alzheimer. Na fase inicial do estudo, que durou 18 meses, não havia demonstrado um efeito importante, mas na extensão do mesmo estudo por mais dois anos, quando todos os pacientes passaram a receber a medicação, os pacientes que tomaram o placebo sofreram com uma evolução da doença mais rápida do que aqueles que tomaram a droga durante o período. Nesses, percebeu-se um efeito animador: houve um atraso no desenvolvimento da do-ençaem 34%. E a primeira medicação que consegue atrasar a progressão da doença.
Adroga é administrada por via endo-venosa a cada quatro semanas, e é muito bem tolerada. Ela esta sendo testada em outro estudo com pacientes que se apresentam no estágio leve da doença. A experiência começou em 2012, o resultado será conhecido em 2016 e a droga deve estar disponível no mercado em 2018.
Outra droga, o Ciantenerumab, também é um anticorpo monoclonal que se liga à placa beta--amiloide e estimula sua retirada no sistema nervoso. Foi utilizado em indivíduos com Al-zhei mer leve por dois anos, mas não conseguiu demonstrar eficácia quando comparada com o placebo. Porém, nos casos de pacientes que tinham DA de rápida piora, e que tomaram uma dose maior do remédio, conseguiram atrasar a evolução da doença.
Um terceiro anticorpo, o Aducanu-mab. que já havia demonstrado eficácia antes, foi testado em uma dosagem de 6 mg/kg dose, por 54 semanas para pacientes com Alzheimer leve ou pré-clíni-co - quando o paciente apresenta alterações nas imagens de PET scan compatíveis com a doença, mas ainda sem perdáda memória. Nesses pacientes houve nítido atraso nodesenvolvimento dos sintomas.
Mas nem todas as notícias foram positivas. Estudos apresentados apontam que a doença de Alzheimer progride duas: vezes mais rápido em mulheres do que.-em homens. A proteína beta-amiloide qcu-mu la-se mais rapidamente nas mulheres no período da menopausa, daí a doença atingir com mais freqüência as mulhefes.
Do 1,5 milhão de pacientes com Alzheimer no Brasil, 60%são mulheres, e oriú-mero de pessoas que sofrem de DA vaLtri-plicar em 30 anos, já que a nossa população idosa continua crescendo
Parto com respeito
01/08/2015 - Época
A goiana Eva Maria Cordeiro precisou de nove anos para conseguir compartilhar sua história cm público. Ainda assim, a conta de forma entrecortada e sussurrada, como quem receia despertar um horror antigo, que teima em assombrá-la. Em 2006, ela estava grávida.
Com o marido, escolheu o médico que os acompanharia no parto e no hospital, referência em atendimento cuidadoso. Aos sete meses de gestação, a bolsa estourou. Na primeira ida à maternidade, Eva foi internada por dois dias, depois mandada para casa. Deveria retornar para o plantão do médico escolhido, três dias depois. Ao voltar ao hospital, porém, foi atendida sob uma rajada de críticas e reclamações. Ao sair de lá, havia perdido o bebê e sofria acusações de ser a culpada pela tragédia. Eva tomou medicamentos psiquiátricos por um ano após o episódio. Nos anos seguintes, teve dois filhos, sem maiores incidentes. Assim, em abril, achou forças para contar como, em 2006, perdeu seu bebê e foi maltratada no hospital. O relato foi feito num encontro sobre parto humanizado, em Anápolis, Goiás.
Ela lembra que, ao voltar ao hospital, conforme a orientação que havia recebido, ouviu reprimendas em tom inquisidor: "Por que não veio mais cedo?", "Queria forçar um parto normal?", "Quem manda no procedimento sou eu". Sozinha, foi encaminhada à sala de cirurgia para, segundo um dos profissionais que a receberam, "arcar com as conseqüências" de suas escolhas. A equipe médica tentou empurrar a barriga de Eva, com a manobra de Kristeller. A manobra, tradicional, mas hoje muito questionada, consiste em dar empurrões para ajudar na saída do bebê. Sem explicar nada, uma enfermeira deitou sobre a barriga de Eva. Como a paciente reagiu, amarraram suas mãos. O bebê não sobreviveu. Disseram que a morte ocorreu por a mãe ter "forçado" o parto.
Eva não recebeu o prontuário médico, que é um direito da gestante. "Assumi a culpa pela morte do meu filho. Meu casamento quase acabou. Parei de trabalhar e abandonei o mestrado", diz. Uma lembrança especialmente amarga é a do marido carregando o caixão do filho morto, como quem embala um bebê. "Tem gente que acha que venci por ter outros filhos. Quem disse? Nunca fui ao cemitério onde meu filho está enterrado. Tenho medo de não sair viva de lá", afirma.
Os abusos de que Eva foi vítima foram vistos, por décadas, com tolerância. Por essa visão tradicional, uma certa rudeza era conseqüência natural da série de decisões rápidas que médicos, enfermeiros e atendentes hospitalares têm de tomar, a fim de realizar partos em seqüência e evitar imprevistos. Os profissionais não poderiam ser importunados por dúvidas fora de hora ou por vontades peculiares de cada família. Não mais. Os abusos são agora reconhecidos como tal e recebem o nome de violência obstétrica.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a expressão como o conjunto de atos desrespeitosos, abusos, maus-tratos e negligência contra a mulher e o bebê, antes, durante e depois do parto, que "eqüivalem a uma violação dos direitos humanos fundamentais". "Tem gente que nem sabe que isso é crime", afirma Fabiana Paes, promotora do Ministério Público de São Paulo.
As mulheres fotografadas nesta reportagem foram vítimas dessa forma de agressão. Em 27 de abril, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, recebeu, em mãos, um dossiê de alerta para o problema. Um dos documentos é a primeira nota técnica sobre violência obstétrica no Brasil, produzida por uma ONG que combate a violência contra a mulher, a Artemis. Lewandowski recebeu também o Projeto de Lei 7.633/14, que define os direitos das famílias à espera de um bebê.
Mais de duas dezenas de comunidades no Facebook foram criadas para falar sobre a violência obstétrica. Nesses grupos, públicos ou não, mulheres como Eva compartilham as próprias experiências, revivem o passado com os depoimentos de novas mães e ajudam mulheres que não reconhecem, por falta de informação, maus-tratos e abusos sofridos. No YouTube, proliferam vídeos caseiros com depoimentos - há até um trabalho de conclusão de curso universitário. Será lançado, neste ano, um documentário sobre mulheres vítimas de violência no Sistema Único de Saúde. Para Suzanne Jacob Serruy, diretora do Centro Latino-Americano da Saúde da Mulher da Organização Pan-Americana da Saúde, as redes fortaleceram as demandas das vítimas. A pressão, ela diz, fez com que instituições sérias de saúde se pronunciassem publicamente sobre o tema, condenando práticas desrespeitosas. "Essa foi a primeira vitória. Como vítimas diretas, as gestantes ficam em evidência, mas essa questão é inaceitável para toda a sociedade", diz Suzanne.
A convite de ÉPOCA, duas mulheres que não foram vítimas, mas consideram-se ofendidas por essa forma de violência, aceitaram integrar a campanha #partocomrespeito. A atriz Grazielli Massafera o fez por um motivo pessoal: sua mãe foi desrespeitada ao dar à luz (ela prefere não falar publicamente sobre o assunto). A apresentadora do GNT e jornalista Astrid Fontenelle também apoia a causa - confira as fotos em epoca.globo. com. "Todas as mães e todos os bebês têm esse direito", diz Astrid.
O efeito das redes se tornou evidente no caso da paranaense Kelly Mafra. Quando ela publicou seu relato em um grupo fechado para mães no Facebook, em 2014, não imaginava que o primeiro comentário mudaria sua cabeça. A experiência na maternidade, no nascimento do primeiro filho, havia ficado muito aquém de suas expectativas. Mas, até então, ela não pensava ter sofrido abuso. O comentário da colega de grupo lhe avisou que ela havia sido vítima de violência obstétrica. Neste ano, o relato de Kelly e o de outras 30 mulheres que deram à luz no Hospital Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, Paraná, chegarão ao Ministério Público no Paraná.
O primeiro incômodo foi ser alvo de deboche por parte da equipe médica, por um problema decorrente da gestação (ela tinha hemorroidas). Na sala de parto, não permitiram a entrada do marido de Kelly, apesar de o direito ser garantido em lei desde 2005, mesmo ano em que o Costa Cavalcanti ganhou, pela Organização Mundial da Saúde e pelo Unicef, o selo Hospital Amigo da Criança, um prêmio por boas práticas com gestantes. Quando as dores das contrações chegaram, ouviu: "Na hora de fazer, não gostou?" e "Não grita, vai assustar as outras mães".
Depois que o bebê nasceu, disseram que ela levaria o "ponto do marido", para "continuar casada". No parto normal de Kelly, o médico fez um pequeno corte no períneo (um grupo de músculos que sustenta os órgãos pélvicos) para facilitar a saída do bebê, a episio-tomia. Recomendado em alguns casos pela OMS, no Brasil o procedimento é regra. Kelly não foi avisada. Na su-tura, o médico deu um ponto a mais, para apertar a abertura da vagina. O procedimento, sem base científica, acompanha a crença de que o parto alargaria a vagina e tornaria o sexo insatisfatório para o homem. Kelly ainda sente dores por isso. A direção do hospital disse desconhecer a ação e os problemas numerados e condenar as práticas mencionadas.
A grávida se encontra numa situação de vulnerabilidade peculiar. Não é uma doente, o que faz com que parte dos profissionais de saúde a trate com menor deferência, como alguém que se submete ao atendimento por escolha própria. Mas é pressionada por um imperativo muito maior que o cuidado com a própria saúde - a saúde da criança. Isso dificulta que ela questione a autoridade de um médico e de outros responsáveis pelo atendimento. A submissão tem conseqüências ruins. "O desrespeito virou uma prática institucionalizada", diz Suzanne, da Organização Pan-Americana da Saúde.
As posturas ruins dos profissionais nos hospitais ganharam status de normalidade, ao longo de décadas, por outro fator. Nos anos 1950, 1960 e 1970, transformar o nascimento num processo controlado e previsível foi útil, a fim de reduzir o número de mortes de mães e crianças. Mas, com esse controle, vieram também o domínio do médico sobre o procedimento (em detrimento da autonomia da parturiente) e a adoção de práticas-padrão, como a raspagem dos pelos pubianos e a lavagem intestinal. Sabe-se hoje que elas não têm fundamentação científica. Mesmo assim, resistem em muitas maternidades. Nos últimos anos, cresceu o questionamento a essa padronização forçada.
Receber tratamento respeitoso na gestação e no parto não é uma questão feminina. O abuso afeta a criança e o parceiro, como ocorre com maridos impedidos de acompanhar as mulheres sem justificativa. O atraso no pensamento nacional ficou evidente após o nascimento da princesa Charlotte, da Inglaterra. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, causou furor por receber alta e aparecer linda no mesmo dia do nascimento de sua caçula, segundo informações oficiais. Kate contou com regalias para dar à luz uma princesa. Mas sua boa forma pós-parto não é excepcional para os padrões britânicos. Por lá, discute-se desde os anos 1950 como dar conforto à parturiente e baixar a mortalidade materna. A estratégia incluiu reduzir as cesáreas e as intervenções desnecessárias. No pré-parto, a gestante define como quer ser atendida. Nada garante que o nascimento seguirá o roteiro, mas os detalhes mostram o envolvimento da equipe hospitalar. Isso gera confiança e calma.
No Brasil, ainda há muito que mudar nessa área. Uma demanda contra violência obstétrica chegou também ao Ministério Público de São Paulo, em 17 de novembro de 2014. A apresentação incluiu uma audiência com promotores, especialistas e funcionários do Ministério da Saúde. Na ocasião, a mineira Joyce Guerra contou sua história. Em 2007, Joyce deu entrada em uma maternidade em Guaxupé, Minas Gerais. Joyce não enxerga - ela não viu os rostos dos que a atenderam. O bebê estava prestes a nascer, por parto normal. Aí começaram os problemas. Disseram que havia mecônio (as primeiras fezes do bebê) no líquido amniótico - um perigo potencial para a criança. Dei-xaram-na apreensiva, mas não fizeram exames adicionais nem a informaram de mais nada que indicasse a gravidade ou a ausência da ameaça. Joyce pediu que chamassem sua médica, mas não foi atendida. Optaram pela cesárea. Não admitiram acompanhante. Depois de duas tentativas frustradas de anestesiá-la, a equipe prosseguiu com a cirurgia assim mesmo. "O anestesista puxava meu cabelo para eu não desmaiar de dor", diz. A criança ficou na UTI por uma semana antes de ir para casa. Joyce procurou um advogado, mas ele não aceitou a causa, porque ninguém havia morrido.
Quando confrontados com casos individuais, administradores de hospitais e profissionais de saúde argumentam que tomaram as decisões que consideraram tecnicamente adequadas no momento. Quando se observam as estatísticas, porém, fica claro que há algo errado no atendimento de praxe. Um levantamento de 2012 feito pela Fiocruz mostra que uma em cada quatro mulheres que deram à luz acredita ter sido vítima. "Nascer no Brasil não tem sido uma experiência natural, nem para pobres nem para ricos", afirma a pesquisa. O índice de cesáreas no país é altíssimo. A OMS considera razoável que 15% dos partos ocorram por essa cirurgia. No Brasil, o índice é de 89,9% dos nascimentos em materni-dades privadas. A Agência Nacional de Saúde Suplementar publicou em janeiro uma resolução para tentar elevar a parcela de partos normais. A cesárea acarreta mais riscos para mãe e criança. Nas redes pública e privada, porém, intervenções desnecessárias para acelerar o nascimento ainda valem como regra, mostra o estudo da Fiocruz. Ainda são amplamente difundidas práticas em desuso ou sem respaldo científico, como administração de ocitocina para acelerar o parto.
A reação ganha corpo. A ONG Ar-temis organiza um crowdmap (mapa colaborativo) chamado Violência Obstétrica, para que as brasileiras registrem casos de desrespeito. Desde 2012, há marchas anuais pela huma-nização do parto e contra a violência obstétrica em ao menos 30 cidades no país. O mesmo fenômeno ocorre em outras sociedades, conforme as famílias se informam. Uma pesquisa nos Estados Unidos mostrou que, entre 2001 e 2012, subiu de 45% para 58% a parcela de mulheres que veem o parto como uma situação que, não havendo complicações, elas comandam. Elas não acham normal receber espetadas de seringas sem explicações, ser inter rompidas por enfermeiras entrando no quarto sem ser solicitadas, nem sofrer exames de toque em seqüência.
Muitos dos casos não chegam a incluir negligência ou abuso, nem colocam ninguém em risco. Mas decorrem de doses cavalares de insensibilidade e despreparo de profissionais de saúde para lidar com a fragilidade emocional da paciente. Quando Talmai Terra decidiu ter o segundo filho, não ima ginou que precisaria se preparar para perdê-lo. Um aborto espontâneo poderia acontecer, avisou o obstetra. E aconteceu, no quinto mês de gestação, em julho de 2012. Talmai e o marido foram para o Hospital e Maternidade Brasil, no Grande ABC Paulista, que integra a rede D'Or. O médico não se identificou nem perguntou o nome da paciente. Apenas pediu a ela que afastasse as pernas. Instantes depois, o médico, sem avisar, colocou o feto, morto, ao lado da mãe, embrulhado na luva que usara. Um enfermeiro tentou melhorar a situação, colocou o feto numa caixa de equipamentos e o depositou no colo da mãe. A administração do hospital afirma que "o diagnóstico e os procedimentos necessários ao tratamento da paciente foram realizados corretamente".
A discussão aberta sobre o tema é benéfica. Há grupos radicais, porém, que usam a crítica destrutiva como arma e, assim, não contribuem com o fim dos abusos. Obstetras respeitados têm receio de participar do debate, por medo de exposição em redes sociais. Um deles, procurado por ÉPOCA, lamenta o tom de certas debatedoras. "Como a relação médi-co-paciente pode ser construída, se a gestante entra no consultório temendo ser vítima?" diz. Mesmo as famílias mais conscientes têm de aceitar a possibilidade de enfrentar imprevistos que coloquem em risco a gestante e o bebê. "O médico pode jurar fazer o melhor possível para atender ao que ela (a gestante) quer, mas precisa ter liberdade para fazer o melhor julgamento", diz Alexandre Pupo. A solução tem de incluir os cursos de medicina. Uma avaliação do Ministério da Educação, feita em 2014, concluiu que 27 cursos de medicina, de um total de 154 avaliados, eram insatisfatórios. Mas Etelvino Trindade, presidente da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, lembra que o médico não é o único responsável. Administradores hospitalares, funcionários de atendimento e outros profissionais de saúde também precisam zelar pelo bem-estar das famílias.
O problema não será resolvido apenas pela lógica de fiscalização e punição. "Criminalização (da violência obstétrica) é demagogia. Não adianta querer que o Direito Penal dê resposta a tudo", afirma a promotora Fabiana. Ela acredita que, para fazer cumprir as leis que já existem, como a previsão de presença de acompanhante no parto, a melhor estratégia é unir pressão à educação. Não somente por parte das vítimas, mas por toda a sociedade.
Haddad executa apenas 6,5% de R$ 1,6 bi previsto para metas na área daSaúde
02/08/2015 - O Estado de S.Paulo
A gestão Fernando Haddad (PT) terá dificuldades para cumprir suas promessas na área da Saúde. Os sete compromissos firmados pelo prefeito no Plano de Metas consumiriam, nos quatro anos de mandato,cerca de R$ 1,6 bilhão em verbas. Até agora, no entanto,somente R$ 108,9 milhões, ou 6,5% do total, foram efetivamente gastos, segundo dados do site de acompanhamento do plano.
O secretário municipal da Saúde, José de Filippi Júnior, afirmou ao Estado, porém, que a execução orçamentária divulgada está desatualizada e que a pasta já teria gasto o equivalente a 15,6% do previsto.
Balanço divulgado pela Prefeitura no fim de junho mostra que a gestão cumpriu,até agora, um em cada quatro compromissos previstos no Plano de Metas em todas as áreas.O Estado analisou os dados, visitou diversos bairros e equipamentos públicos para mostrar a situação das áreas de Saúde,Educação,Habitação e urbanismo.
No caso da Saúde, os recursos tornariam realidade, além de três hospitais, a construção e a reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), a adoção da Rede Hora Certa, a criação do prontuário eletrônico do paciente, a recuperação de hospitais e a abertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPs). De 146 equipamentos novos ou reformados prometidos, porém, só 19 foram entregues e outros 28 estão em obras.
Uma das principais bandeiras da campanha de Haddad, a Rede Hora Certa foi criada,mas sua presença ainda é tímida.
Das 32 unidades prometidas,oito foram inauguradas e sete deverão ser entregues neste mês.
A gestão diminuiu o número de pessoas que esperam por consultas e exames, que passou de 679,5 mil, em dezembro de 2012, último mês da gestão Gilberto Kassab (PSD), para 511,8 mil em fevereiro deste ano. No entanto, a lista de espera de cirurgias cresceu 10%, de 56,9 mil para 63 mil.
Outras unidades. Só quatro das 43 UBSs prometidas saíram do papel.Dois CAPSs foram entregues e outros dois readequados para ampliação do serviço – a gestão promete 30 até 2016.
Paciente da UBS Jardim Vista Alegre, na Vila Brasilândia, na zona norte, o motorista Genilson Galdino da Paz, de 43 anos, reclama do tempo de espera para conseguir atendimento. “É demorado. Para clínico-geral, demora dois ou três meses para conseguir a consulta.” Segundo a Prefeitura, 15 UBSs estão licitadas e as obras terão início neste mês. A previsão de entrega é de um ano.
Na área de pronto-atendimento e emergência, a gestão entregou duas UPAs e iniciou a obra de 13. A promessa é ter 25 desses equipamentos na cidade. Haddad prometeu ainda melhorar a estrutura de 16 hospitais, dos quais apenas um teve o serviço finalizado. Outros oito tiveram obras iniciais de reestruturação.
A gestão reativou 294 leitos que estavam fechados por falta de pessoal.
Atualização. Filippi Júnior diz que já foram executados “R$ 250 milhões, fora outros R$ 70 milhões que a secretaria investiu em ações complementares às metas e igualmente importantes para a Saúde”.Eles e refere à verba usada para projetos como a reforma de unidades para deixá-las acessíveis.
O secretário afirma também que a execução orçamentária é baixa porque as obras mais caras demoram para ficar prontas.
“As obras dos três hospitais, por exemplo, representam quase a metade de toda a verba prevista para os quatro anos, são R$ 750 milhões”, diz ele. De acordo com o secretário, serão gastos mais R$ 180 milhões no segundo semestre deste ano, o que colocará o índice de execução em 27% ao fim de 2015.
O titular da Saúde diz que o ritmo de obras foi prejudicado pela ausência de projetos e licitações prévias das obras necessárias para novas unidades e pela restrição orçamentária da Prefeitura. “Nos dois primeiros anos de governo, tivemos de focar na elaboração de projetos, definição de terrenos, desapropriações e licitações.”
Só 1 dos 3 hospitais prometidos em campanha deve ser entregue
02/08/2015 - O Estado de S.Paulo
Com o atual ritmo dos projetos e os prazos médios das obras, o prefeito Fernando Haddad (PT) deve entregar até o fim de seu mandato, em 2016, apenas um dos três hospitais prometidos na campanha eleitoral de 2012. Uma quarta unidade de saúde, comprada pela gestão, atualmente em reforma, deverá entrar em funcionamento ainda em 2015 e substituir um dos hospitais planejados.
A promessa de Haddad previa hospitais em Parelheiros, na zona sul, Brasilândia, zona norte, e Vila Matilde, zona leste, este último em substituição ao Hospital Municipal Doutor Alexandre Zaio. Até agora, porém, passados dois anos e meio de gestão, apenas as obras do Hospital Parelheiros foram iniciadas e estão em estágio inicial.
Este deve ser o único dos três centros que ficará pronto.
A reportagem visitou o canteiro dos dois hospitais com licitações de obras já finalizadas: Parelheiros e Brasilândia. No primeiro caso, máquinas e operários são vistos trabalhando diariamente.O serviço de terraplenagem foi finalizado,e a estrutura do prédio começou a ser erguida em julho. A obra deveria começar em dezembro de 2014 e ser finalizada em julho de 2016, mas foi iniciada com dois meses de atraso, em fevereiro de 2015,e a entrega está prevista para setembro do próximo ano.
O hospital é reivindicação antiga dos 205 mil moradores da região, a cerca de 40 quilômetros do centro da capital.“Agente espera que agora realmente saia o hospital, porque é muito difícil quando precisamos de qualquer atendimento. Demora 40 minutos de carro e mais de uma hora de ônibus até o Hospital do Grajaú,que é o mais próximo”,diz a monitora Tamara Paixão, de 20 anos, que mora na frente do futuro hospital.
Segundo a Prefeitura,a unidade terá 255 leitos, dos quais 30 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 41 de obstetrícia. O hospital terá pronto-socorro e centro de especialidades.
Desânimo. A situação do Hospital da Brasilândia é menos animadora.
A licitação foi concluída, e Haddad prometeu que os trabalhos começariam em junho. No local, o Estado verificou que não há equipamentos nem operários, e a Prefeitura afirma, em nota, que o início das obras está condicionado à“liberação das licenças pelos órgãos responsáveis”. Sem informar datas, a gestão diz que o equipamento deve ser entregue no segundo semestre de 2016, meta difícil de ser cumprida, pois o prazo da obra é de 20 meses. Já na zona leste não há previsão para o início das obras. Até agora, a gestão só finalizou o projeto executivo. Internamente, a Secretaria Municipal da Saúde admite que dificilmente terá recursos para a construção.
A Prefeitura afirma, em nota, que o Hospital da Vila Matilde será licitado neste segundo semestre e ficará pronto após 24 meses. No lugar desta unidade, na internet,a gestão Haddad colocou o Hospital Santa Marina, na zona sul, comprado da rede privada em 2013 e em reformas para se tornar 100% municipal.
Faltam médicos e aparelhos nas unidades em funcionamento
02/08/2015 - O Estado de S.Paulo
Como baixo número de equipamentos inaugurados na gestão Fernando Haddad (PT) e as dificuldades de financiamento e contratação que atingem a saúde pública, as unidades municipais já existentes continuam com os antigos problemas de superlotação, falta de profissionais e falhas na estrutura.
O Hospital Municipal Vereador José Storopolli, conhecido como Vermelhinho, no Parque Novo Mundo, zona norte, não tinha leitos suficientes para os pacientes que buscavam o pronto-socorro e não realizava radiografias e ultrassons no fim de junho.O Estado encontrou macas no corredor e pacientes internados em poltronas,enquanto esperavam por vagas.
Com forte cólica renal,a auxiliar de produção Graziele Costa Santos, de 26 anos, ficou quatro dias em uma poltrona à espera de vaga. Quando conseguiu um leito, teve de aguardar outros quatro dias para conseguir fazer o ultrassom do rim na unidade. “Disseram que o médico que faz o exame tinha se demitido.” Quem precisava de raio X no hospital também enfrentava dificuldades.Depois de procurar três prontos-socorros municipais, o corretor Luiz Alexandre Alves da Silva, de 57 anos, teve de pagar, na rede particular, por um raio X para a mãe. O Estado constatou os mesmos problemas em outras regiões.
Sem médicos. A Prefeitura informa que recebeu autorização para a nomeação de 620 médicos e 600 serão encaminhados para a Secretaria Municipal da Saúde.Os demais vão para o Departamento de Saúde do Servidor (DESS). O déficit de profissionais, segundo a gestão, é de 1.100 médicos nas UBSs de administração direta,no Samu, na Coordenação de Vigilância em Saúde e no Hospital Doutor Mário de Moraes Altenfelder.
A Secretaria da Saúde informa que o Hospital José Storopolli, administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), tem três aparelhos de raio X,mas apenas um, móvel, estava funcionando no fim de junho. Os outros passavam por manutenção e um já está em funcionamento.
A SPDM nega falhas no equipamento de ultrassonografia.
Governo federal promete ampliar tratamento preventivo
03/08/2015 - O Estado de S.Paulo
Embora elogiado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem um longo caminho a percorrer caso queira alcançar o compromisso de controlar doenças tropicais negligenciadas (DTNs). Entre os principais desafios estão esquistossomose e hanseníase,cujos indicadores são piores do que os da meta proposta para o País.
Estimativas indicam haver cerca de 7 milhões de pessoas contaminadas por esquistossomose.
No caso da hanseníase, os números estão em queda, mas alguns Estados apresentam dados preocupantes, como Mato Grosso, com 9,03 casos a cada 10 mil habitantes; e Maranhão, com 5,29. O ideal é prevalência inferior a 1.
“Acho possível acabar com o problema no prazo determinado”, afirma o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Antonio Carlos Nardi.Para tentar reduzir novos casos de hanseníase, a pasta promete ampliar a oferta de medicamentos de uso preventivo para aqueles que têm contato não tão próximo com pacientes.Hoje,o uso da quimio profilaxia preventiva, como é chamada, é para pessoas consideradas mais próximas,como parentes ou habitantes da mesma casa. “É uma maneira de se reduzir a cadeia de transmissão”, diz Nardi.
A localização de casos de hanseníase em São Cristóvão, em Sergipe,mostra que a estratégia pode ter bons resultados. Em um mesmo bairro, a reportagem encontrou três doentes.
“Nunca conheci ninguém com o problema”, conta a dona de casa Maria da Gloria. Ela diz que procurou o médico há cinco meses,após apresentar manchas nos braços, que coçavam.
Seus cinco filhos fizeram tratamento preventivo. “Fiquei assustada, mas agora, passada a primeira fase do tratamento,estou mais tranquila.” Nardi reconhece que investimentos na área ambiental são importantes para o controle de parte das DTNs e diz que a tarefa vem sendo cumprida, com as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). São Cristóvão, porém, está longe de ter condições mínimas de saneamento.
Não é raro ver esgoto despejado em córregos que desembocam em lagos em que crianças brincam. Bicas são compartilhadas para lavar roupas, tomar banho ou encher vasilhas para beber. Andreia dos Santos, de 34 anos, que já teve esquistossomose e outras parasitoses, usa essa água, pois em casa costuma faltar.
Márcia de Souza Lima, uma das autoras do estudo da OMS, destaca dois resultados importantes do Brasil: a redução dos casos de filariose e a contenção da oncocercose, parasitose sem novos casos desde 2012.
Controle de doenças negligenciadas no País elevaria produtividade em R$ 55 bi
03/08/2015 - O Estado de S.Paulo
O controle de sete doenças tropicais negligenciadas (DTNs), consideradas endêmicas no País – hanseníase, esquistossomose, leishmaniose visceral, oncocercose, tracoma, filariose linfática e Chagas –, aumentaria a produtividade em R$ 55 bilhões até 2030 no Brasil. A estimativa, feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), leva em conta, por exemplo, o impacto de faltas ao trabalho, aposentadorias precoces e sequelas que reduzem a capacidade laboral dos doentes brasileiros.
“A maior parte das doenças não mata, mas afeta de forma significativa a produtividade.
Países já entenderam que a criança não tratada vai faltar à escola, tem mais riscos de anemia,seu rendimento escolar será prejudicado e,em consequência, será um adulto com formação pior”, diz Márcia de Souza Lima, uma das autoras do relatório da OMS. A professora Nádia dos Santos, da Escola Municipal Araceles Correa,em São Cristóvão,na região metropolitana de Aracaju, confirma as observações.
Não raro, diz, alunos desmaiam nas aulas.“Uns dizem que é virose, outros, falta de café da manhã.
Não sabemos de fato o que acontece.” Uma coisa, porém, é comum: além dos desmaios, estudantes se queixam de dores de barriga e enjoos,sintomas frequentes de esquistossomose e outras verminoses.
É em busca de pacientes com esquistossomose, a “doença do caramujo”,que o agente de controle de endemias Willamis Carmo percorre diariamente as ruas da empobrecida São Cristóvão.
De casa em casa, tenta convencer moradores a fazer exames. Coleta o material, retornando com o resultado, e, em casos positivos, já com o remédio.
“Faço isso há 20 anos, mas nada muda. Trato hoje, e amanhã a doença retorna.” Entraves. A dificuldade para romper o ciclo de doença e pobreza se repete em outros cantos.Assete DTNs são consideradas endêmicas no País – comuns em áreas pobres, não despertam o interesse da indústria farmacêutica para desenvolvimento de vacinas, medicamentos e testes.
Diretora de Programas e Operações da Rede Global para DTNs, Márcia afirma que, embora essas doenças afetem uma em cada seis pessoas no mundo,há desafios para o diagnóstico.
“Quando comecei a trabalhar, vi muita gente com tracoma e não mediquei. Não sabia reconhecer a doença. É preciso ensinar a comunidademédica a reconhecer os problemas.” O relatório da OMS avalia que, embora seja necessário redobrar os esforços, passos importantes foram dados nos últimos três anos,quando uma parceria público-privada foi formada para tentar reduzir as DTNs no mundo. Hoje,43% da população em situação de risco recebe tratamento para pelo menos uma das doenças, porcentual maior do que o de 2008 (35%).
São Cristóvão– quarta cidade mais antiga do Brasil, que já foi capital de Sergipe – tem altos índices de esquistossomose.
Dos exames feitos ali, ao menos 25% são positivos – marca que justifica tratamento em massa.
Para Carmo,o porcentual poderia ser maior.“Não testamos todos, não há como fazer análise.
Se coleto mais de 50 amostras por semana, sou criticado pelo pessoal do laboratório.” Coordenadora de vigilância epidemiológica da cidade, Flávia Moreira sabe das dificuldades.
Ela espera ansiosa o início de um programa do Ministério da Saúde para diagnóstico e tratamento em massa entre estudantes de 5 a 14 anos. A promessa é que a cidade receberá verba para campanha de esclarecimento e diagnósticos.
O município apresenta ainda altos índices de hanseníase e leishmaniose, doenças negligenciadas endêmicas e alvo de um programa do governo. Neste ano, serão 2.263 municípios atendidos. No relatório, a OMS elogiou o Brasil pela iniciativa de testar e tratar de forma integrada hanseníase, esquistossomose, verminoses e tracoma.
Saneamento. Embora entusiasmada com a chegada de recursos extras, Flávia se diz pouco esperançosa. Ela lembra que é preciso adotar medidas para acabar com agentes transmissores da doença: coleta adequada de lixo previne a leishmaniose; água e esgoto tratados são essenciais para evitar a proliferação dos caramujos.
Moradores de uma casa encravada entre dois córregos, Maria Nair de Jesus, de 46 anos, e o filho mais velho, de 14, são vítimas de um ciclo que envolve o ambiente.Foram diagnosticados com esquistossomose. Maria resiste a usar todos os medicamentos por causa dos efeitos, como a diarreia. “Se ela tomar o remédio, vai se curar. Mas, em pouco tempo, se contamina novamente”, diz Carmo.
Como curar uma doença negligenciada
03/08/2015 - Folha de S.Paulo
Uma maneira fácil de reconhecer uma doença negligenciada pela comunidade de pesquisa médica é a reação diante de um surto inesperado que causa comoção mundial. No caso da atual epidemia de Ebola, que matou 11 mil pessoas em um ano e meio no oeste da África, bastou um ano para que surgisse uma vacina altamente eficaz, quando o normal é esperar mais de uma década.
A vacina que exibiu virtualmente 100% de eficácia teve os resultados de seu primeiro teste clínico divulgados na sexta-feira passada na revista "The Lancet". O imunizante, desenvolvido pela Agência de Saúde Pública do Canadá e depois adquirido pela Merck. Testes foram coordenados por equipes da OMS e da Escola de Saúde Pública de Harvard, de Boston.
No caso do ebola, não era exatamente uma opção demorar para fazer os testes. Não só a doença era extremamente agressiva, mas os surtos de ebola normalmente não chegam a durar muitos anos, mesmo que matem muitas pessoas. Cientistas conseguiram começar a testar as primeiras vacinas em março, pouco mais de um ano depois do início da epidemia, e nessa época medidas de contenção já estavam começando a frear o aumento desenfreado no número de casos.
Os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, que estão desenvolvendo uma outra vacina candidata, estimavam ser necessário que o imunizante fosse aplicado em 150 mil voluntários para que um teste fosse feito em condições ideais. Em maio, o número de pessoas em contato com doentes de ebola já era provavelmente mais baixo que esse.
O que permitiu aos cientistas da OMS avaliar a eficácia da droga foi a estratégia de testes clínicos "em anel". Nesse esquema, não existe um grupo de pacientes de controle que recebem placebo em vez de vacina para efeito de comparação, como é praxe. Todos aqueles em risco de terem contraído o vírus são vacinados, mas alguns recebem sua dose só duas semanas depois, permitindo algum grau de comparação.
Na vacina que obteve sucesso, 2.014 pessoas foram imunizadas logo após saberem que tinham entrado em contato com algum doente de ebola. Outras 2.380 foram aquelas vacinadas com duas semanas de intervalo. No primeiro grupo, ninguém contraiu ebola após o período necessário para ação da vacina (dez dias). No segundo grupo, foram registrados 16 casos, menos que o esperado.
OMS SOB CRÍTICA
O resultado foi comemorado por africanos dos países afetados pela doença, por trabalhadores de saúde e pela direção da OMS, que vinha sendo criticada pela demora em agir na região.
A entidade não tinha reservado dinheiro suficiente em caixa para montar a operação de guerra necessária para deter o ebola logo nas primeiras semanas, e em vez de tentar mobilizar outras agências ligadas à ONU, montou um comitê de emergência que enfrentou certa burocracia até convencer países-membros da organização a despejar dinheiro extra. Quando a agência finalmente despejou um batalhão de voluntários vestidos em trajes de plástico na região, muitos africanos com suspeita de ficaram com medo, e fugiram dos hospitais emergenciais em vez de procurar ajuda.
A ação levou tempo para surtir efeito. A lentidão rendeu à OMS críticas duras de ONGs que trabalham na África Ocidental, como os Médicos Sem Fronteiras e a Oxfam, mas agora, finalmente, a vacina licenciada pela Merck parece trazer um suspiro de alívio. Existe ao menos alguma ferramenta que pode ser tentada na próxima epidemia de ebola, além de ajudar a debelar o surto atual.
A OMS agora estuda manter um esquema de emergência já em prontidão para deter alguns outros patógenos de alto impacto em saúde pública. As principais candidatas são a MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), a febre de Lassa e a febre do vale do Rift.
A VACINA DA DENGUE
A dengue é uma doença que atualmente mata mais que o ebola no mundo, mas não acaba com tantas vidas tão rápido num lugar tão concentrado.
Em um ano, cerca de 500 mil pessoas são hospitalizadas por dengue, das quais 12.500 morrem. A febre causada pelo vírus, claro, não é tão violenta quanto as crises hemorrágicas causadas pelo ebola, mas o risco de contrair a doença é maior. Metade da população mundial vive em áreas que o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti, habita.
Desenvolver a primeira vacina que aparenta ser mais eficaz, porém, levou décadas. E a notícia de que a gigante farmacêutica Sanofi teve um bom resultado em testes na semana passada ainda veio acompanhada de alguns poréns.
O imunizante teve eficácia de 82% para pacientes já expostos ao vírus, mas de 52% para quem nunca teve dengue. E crianças abaixo de 9 anos parecem ter sido ligeiramente prejudicadas pela vacina, em vez de beneficiadas, ainda não se sabe bem por quê.
A vacina, que foi experimentada em 35 mil crianças e adolescentes no mundo, não foi testada no Brasil. Precisa ainda passar por agências sanitárias para entrar para valer em programas de saúde pública. Mas é razoável imaginar que ela deve ter algum impacto sobre a doença, ainda que não seja capaz de erradicá-la num prazo apreciável.
OUTROS PATÓGENOS
O ebola e a dengue, claro, não são as únicas doenças negligenciadas do mundo. A OMS lista 17 patógenos que ameaçam 20% da população mundial mas recebem menos de 0,1% dos gastos discricionários totais em saúde no planeta, incluindo verbas de pesquisa. A dengue está na lista, junto com a doença de chagas, a esquistossomose e outras. (A crise do ebola não tinha começado quando a lista foi compilada em 2013.)
A dengue talvez seja um caso especial da lista por estar muito disseminada e ter despertado um interesse um pouco maior de pesquisa, o que permitiu a realização de muitos estudos básicos que culminam agora tanto em vacinas candidatas quanto em métodos para controlar o mosquito.
Mas e outras doenças? Será que uma mudança na cultura global de promover pesquisa não poderia turbinar o combate às outras 16 doenças negligenciadas na lista da OMS? A rapidez com que surgiu a vacina do ebola vai sempre causar algum receio sobre se aquilo que está sendo feito para combater esses patógenos é realmente o melhor que o mundo pode fazer.
A OMS admitiu muitos pontos das críticas feitas com relação ao episódio do ebola, e para esse tipo de caso, é possível que sua nova política para emergências vá surtir efeito. Mas algumas doenças negligenciadas matam muita gente, apesar de não causarem calamidades tão súbitas e concentradas quanto a do ebola.
Uma análise dos Médicos Sem Fronteiras mostra que mais dinheiro está entrando hoje do que entrava para essas doenças há duas décadas, mas vacinas e remédios não estão surgindo mais rápido. Será que há algo errado na estratégia global para combate a essas doenças? Talvez a reviravolta no caso do ebola seja uma boa oportunidade para a OMS repensar o caso.
O sobrinho da empregada morreu após ter meningite
03/08/2015 - Folha de S.Paulo
A administradora Karla Lepetitgaland, 38, vacinou o filho de três anos e agora pretende vacinar o mais novo, de um ano.
"Quando ouvi falar da vacina, fui correndo perguntar para a pediatra. Meu filho mais novo, de um ano, tem doença crônica de pulmão, já foi internado. Como ele vai muito ao hospital, eu fico com muito medo de que ele saia de lá infectado com outras doenças.
A pediatra me disse para esperar, pois se tratava de uma vacina nova. Busquei outras fontes de informação, com pediatras amigas minhas, que conhecem infectologistas, e elas me disseram que a meningite é uma doença muito séria, que pode ser transmitida até por pessoas que não estejam doentes [portadores em quem a doença não evolui].
Não vacinei o mais novo ainda, mas como o mais velho já tinha tomado a vacina conjugada para as meningites A, C, W e Y, resolvi dar a vacina para a B também. Paguei R$ 560 na primeira dose e agora em agosto ele vai tomar a outra.
Fico meio desesperada porque o sobrinho da minha empregada morreu de meningite. A doença mata muito rápido, e eu tenho medo.
Mas as clínicas também se aproveitam disso. O preço é um absurdo."
As pessoas estão com medo de uma epidemia que não existe.
03/08/2015 - Folha de S.Paulo
"Quando o pessoal começou a alertar sobre a vacina da meningite B, foi como um déjà vu: lembrei do final do ano passado, quando começaram a falar aqui em Porto Alegre de vários casos de meningite que estava matando muitas crianças nos hospitais.
A história vinha sempre de uma prima de uma amiga que era pediatra e trabalhava em algum hospital e dizia a mídia vinha escondendo os casos. Liguei para o pediatra e ele me disse que naquele momento não havia um risco maior da minha filha adquirir a doença do que antes. A única novidade era um novo lote da vacina contra as meningites A, C, W e Y nas clínicas.
Não é por ser contra as vacinas. Sempre demos todas as do calendário básico. Não é também pelo dinheiro.
O que lamento é ver gente entrando em filas, mexendo nos sistemas imunológicos das crianças, gastando dinheiro que poderiam aplicar em alimentos mais saudáveis, por exemplo, sem saber exatamente por quê, por medo de uma epidemia que não existe.
Mas, claro, não podemos ser radicais. Conheço uma pessoa que assim que soube foi vacinar o filho. Eu não pensei 'nossa, que exagerada', eu entendi: o primo dessa pessoa tinha morrido de meningite."
Plantão Médico: Uma obstrução seletiva
01/08/2015 - Folha de S.Paulo
A embolização vem sendo sugerida nos últimos anos para o tratamento da hipertrofia prostática benigna, frequente nos idosos com dificuldade de micção, desde que afastada a chance de câncer na glândula.
O tratamento tem sido o medicamentoso ou o cirúrgico. A embolização é a obstrução seletiva da artéria de um órgão; a angioplastia, praticamente a mesma técnica, tem, ao contrário, a função de desobstruir artérias –principalmente as do coração.
Em 2005, L. V. Hui-gin publicou no "Chinese Journal of Urology" estudo preliminar sobre a embolização da próstata, seguido por outros estudos mostrando esse novo caminho.
No ano passado, a revista "Cardiovascular and Interventional Radiology" publicou artigo de revisão de S. M. Schreuder e colaboradores da Universidade de Amsterdã, Holanda, sobre a embolização prostática benigna. É relatada diminuição do volume da próstata, melhora do fluxo urinário e ausência de deterioração da função eréctil. A revisão conclui que o procedimento é seguro.
O médico Nestor Kisilevzky, do setor de embolização do Hospital Santa Catarina, de São Paulo, também na "Cardiovascular and Interventional Radiology" compara embolização da artéria prostática com a da artéria uterina, utilizada no tratamento de miomas. Na "Revista Argentina de Urologia", Kisilevzky e colaboradores apresentam resultados da embolização prostática e sugerem ser uma eficiente e segura alternativa para o tratamento da hiperplasia prostática benigna.
SP cria modelo nutricional para soropositivo
01/08/2015 - Folha de S.Paulo
O Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, desenvolveu uma nova ferramenta para avaliar o estado nutricional de pacientes soropositivos, uma espécie de IMC (Índice de Massa Corpórea) aprimorado e específico para os doentes de Aids.
O modelo, que se mostrou mais preciso tanto no diagnóstico como no tratamento desses pacientes com risco nutricional, poderá ser estendido a outras unidades públicas de saúde no Estado.
Sem o tratamento nutricional correto, o paciente fica suscetível à queda na resistência e, portanto, às infecções oportunistas, além de potencializar riscos de úlcera por pressão, por exemplo.
Além de avaliar o peso do indivíduo em relação à sua altura (IMC), o novo instrumento leva em conta o percentual de perda de peso e a circunferência do braço.
A ferramenta é para ser usada na internação hospitalar, período em que, normalmente, até 40% dos pacientes ficam desnutridos.
Segundo Andrea Zumbini Paulo, diretora do serviço de nutrição do Emílio Ribas, o paciente HIV costuma ficar mais tempo internado por conta de complicações da doença, o que o leva à perda muscular, por exemplo.
"Ele pode ser obeso, mas se o percentual de perda de peso for alto dentro de um período curto de tempo, isso compromete o estado nutricional", explica. Com o IMC convencional, porém, o sobrepeso mascararia isso.
Andrea diz que o instrumento pode identificar, no ato da internação, o paciente com chances de risco nutricional.
Na comparação com o IMC tradicional, a nova ferramenta conseguiu detectar quase duas vezes mais pacientes em risco –60% contra 33%.
Assim, a equipe tem condições de intervir mais rapidamente.